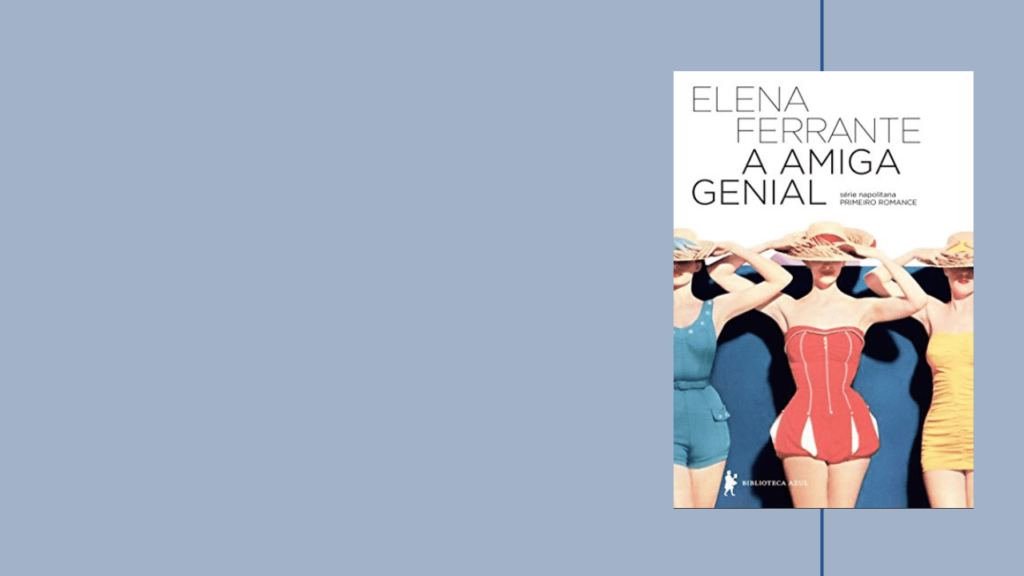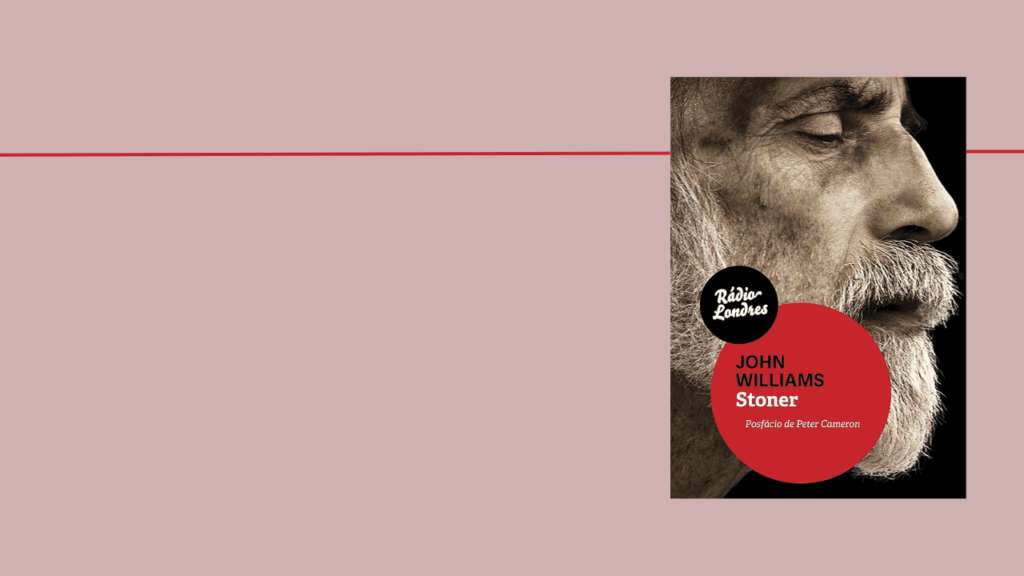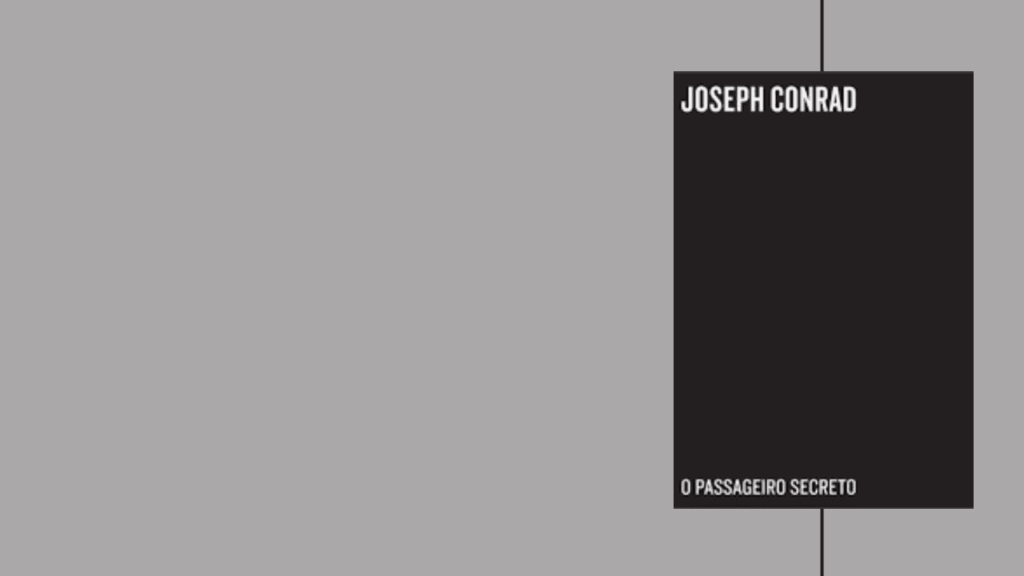Simpático, Valter Hugo Mãe me recebeu no hotel em que estava hospedado em São Paulo, onde esteve em São Paulo para uma série de eventos. O escritor português veio ao Brasil para participar do Fronteiras do Pensamento, mas aproveitou intensamente a viagem, completando a agenda com entrevistas. A versão editada dessa conversa foi ao ar no Jornal da Cultura Primeira Edição, na TV Cultura, e está disponível no Facebook do jornal. A versão completa, está logo aqui:
Põe na Estante – No seu último livro publicado no Brasil, A Desumanização, a desumanização aparece um pouco como a falta de perspectiva, de sonhos. Você acha que, nesse sentido, nos estamos desumanizados?
Valter Hugo Mãe – Eu acho que há uma espécie de deriva, sobretudo que tem que ver com o estarmos numa época em que sabemos mais do que aquilo que está na nossa conduta. Nunca tanta gente no mundo viveu de uma forma tão digna, nunca se dignificou uma população tão larga da humanidade, em termos relativos. E por isso ainda acho que de alguma forma a humanidade evolui. No entanto, é a primeira vez na história que nós detemos um tipo de informação e uma quantidade de informação, e estamos numa maturidade ética, que faria pressupor uma conduta distinta. É como se existisse um desfasamento entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. Enquanto que, em outras eras, isso não acontecia. As atrocidades que eram feitas, eram feitas por convicção; hoje, não há convicção, há sobretudo uma espécie de malandragem, porque, no nível do conhecimento, da informação, todos nós sabemos, no fundo todos nós já estamos num tempo em que acedemos a uma educação, que é muito mais lúcida em relação ao que verdadeiramente cada um de nós precisa. Isto colocado numa macrovisão das gestões do Estado, saber que todos os Estados entendem perfeitamente quais são as necessidades básicas de respeito e de dignidade de cada um de seus cidadãos, e depois vê-los tomar outras decisões muito mais em prol da guerra, do conflito, de uma economia absolutamente selvagem é muito frustrante. Acho que a humanidade está preparada para ser muito mais feliz.
PNE – E o que você acha que precisaria pra que ela fosse?
VHM – Vergonha na cara (risos)… Acho que é uma questão de vontade, de prioridades, entender que estamos todos no planeta de alguma forma e precisamos todos de uma harmonização que seja feita sem que nós sejamos rebaixados à categoria de consumidores, mas levantados à categoria de cidadãos verdadeiramente. Os Estados hoje não lidam com os seus cidadãos, lidam com seus consumidores. E os Estados uns com os outros lidam também nesse sentido. O frustrante é isso: a gente sabe melhor, então por que não fazemos melhor?
PNE – Uma vez você disse em uma entrevista que acredita só em pessoas. Esse tipo de coisas te faz acreditar menos em pessoas?
VHM – (risos) Não, não, eu acredito verdadeiramente nas pessoas. As instituições são máquinas abstratas e eu preciso encontrar dentro de uma instituição eventualmente uma pessoa. Quando a gente tem algum tipo de visibilidade, há sempre uma tentativa de aproveitamento por parte das pessoas da política, porque nossa visibilidade é um veículo para se chegar aos eleitores e aos consumidores. Eu digo sempre que não está em causa defender partidos ou defender estruturas, estarei sempre do lado de alguém que eu considere que, independentemente de tudo o que está ao redor, seja uma pessoa honesta. E eu vejo isso nas pequenas coisas: se desprezar o garçom, não tem meu voto.
PNE – Você acha que a literatura tem o potencial de nos fazer mais cidadãos e menos consumidores?
VHM – Eu acho, sinceramente. Pode ser uma das minhas mais horríveis ingenuidades (risos). Eu acho sim. Eu acho que escrever livros e ler livros é criar uma robustez intelectual ou uma robustez para nossa capacidade de decidir. Acho que ler livros é ser mais cidadão, a gente fica com uma espécie de preparação. O livro é uma espécie de ginásio do pensamento, é onde você muscula as ideias. Tudo pode ser potenciado, tudo pode ser melhorado, de alguma forma, depois da leitura de um livro. Quer enquanto escritor, mas sobretudo enquanto leitor, eu aprendi isso há muito tempo, os livros mudaram sempre a minha vida, por isso mudaram sempre a maneira como eu penso e eles ensinaram muito, ensinaram o principal pra mim.
PNE – Eles nos fazem mais empáticos?
VHM – Fazem mais empáticos, sobretudo por esse processo de identificação, de deslocação. Nós somos capazes de acompanhar a história mais distante, sobre a figura mais distante da nossa própria figura, mas conseguindo compreendê-la, porque o livro, muitas vezes, inclusive o livro de ficção, o romance, permite que nós atravessemos aquela narrativa de uma forma muito íntima. Subitamente, não estamos só perto da pessoa, estamos dentro da pessoa, acede até as suas pulsões mais inconfessáveis. É um processo de possível identificação, é uma auscultação dos outros, das pessoas.
PNE – Hoje você aparece como um dos principais nomes da literatura de língua portuguesa. Como você vê o potencial da literatura lusófona para contribuir com esse processo?
VHM – Eu tento, eu – até abusivamente – tento (risos). Os meus livros – e isso é mais forte do que eu – eles acreditam muito. Eu tenho muito a ideia de que um livro deve ser escrito de uma maneira muito liberta, muito solta, muito sem corresponder imediatamente. É minha natureza e ela faz com que meus livros sejam sempre comprometidos com algum assunto, com alguma preocupação. Eu acho que eu escrevo livros porque eu estou preocupado, ou porque alguma coisa me falta, eu acredito muito nisso. Desde muito pequeno que eu concebo os textos como uma colmatação de algo que falta, de uma lacuna, de algo a que não acedo e as vezes até que eu não entendo – e eu escrevo porque quero entender. Pra mim foi sempre muito claro que os meus livros servem pra alguma coisa.
PNE – E eles te ajudam a entender?
VHM – Servem muitíssimo. Eles são o meu processo de estudo mais sério. Aquilo que entra no livro e inclusive aquilo que o livro acaba por rejeitar, aquilo que o livro não precisa, aquilo que o livro acaba por pressupor e já não precisa mais ostentar… Tudo isso acaba por ser uma experiência de aprendizagem minha e por isso o livro é algo que contém aquilo que o leitor vai ler, mas depois é um mundo ao redor que acaba por si só pressuposto. Um pouco como a experiência do leitor: o leitor vai partir do meu texto e vai parar em outro lugar que já eu não domino e talvez eu nem consiga dominar. Eu fico muito mudado pelos livros e creio que as principais coisas, as principais decisões da minha vida foram tomadas com a ajuda substancial dos livros.
PNE – Olha, pode apostar que seus leitores também ficam muito mudados com seus livros… (risos) Como você vê a divulgação da cultura, principalmente da literatura, de língua portuguesa no mundo? Ainda há lugares aos quais ela não chegou?
VHM – Acho que há muito ainda a fazer e vou ser muito direto nessa questão, acho que o papel do Brasil é fundamental. A cultura brasileira, a cultura que chega do Brasil é, nesse momento, muito mais apelativa para o mundo do que, por exemplo, a cultura portuguesa. Isso faz com que esteja depositada na cultura e nos agentes criadores do Brasil uma responsabilidade que ultrapassa largamente apenas o seu próprio país. É muito gratificante, ao mesmo tempo, perceber que há toda uma espécie de complô no mundo para que a cultura anglo-saxônica, sobretudo americana, seja a globalização… Se você pensar, a globalização não é efetiva, nós estamos globalizando apenas um ou dois pontos do globo, a gente não sabe nada do Burundi – eu digo Burundi, porque eu próprio não sei nada do Burundi, o Burundi não globalizou. E a tendência é que, provavelmente, Portugal não globalize, mas o Brasil está muito mais perto. Há pouco tempo eu estive em Tóquio e em todos os lugares bonitos tocavam Bossa Nova (risos). E quando eu digo bonitos é o lugar com cultura, com livros, com uma certa aspiração ao bem-estar, a uma beleza, a uma inteligência, e estava tocando Bossa Nova. E as seções nas lojas de discos têm sempre uma prateleira enorme de música brasileira. Não tem música portuguesa, as vezes só aparece uma ou duas no meio do Tom Jobim (risos). Isso é uma coisa que o Brasil, se ainda não sabe, precisa saber: o Brasil tem um balanço que o mundo quer conhecer.
PNE – E você tem ideia de como poderíamos potencializar isso?
VHM – Respeitar sempre Tom Jobim, amar muito o Caetano Veloso, o Chico Buarque e toda essa leva de literatura, de gente do cinema e do teatro. O Brasil tem uma relação muito natural com as expressões, é um país expressivo, um povo expressivo e por isso seus criadores são muito maduros, estão muito maduros. Tem que acreditar profundamente na cultura, ela é fundamental para que nós tenhamos autoestima. Você veja, eu tenho um orgulho imenso da cultura portuguesa, mas estou até reclamando um orgulho na cultura brasileira (risos)… Por causa da relação quase endêmica que nós temos. A cultura ela é autoestima e nós não vamos conseguir nunca batalhar sem uma identidade, sem sabermos quem somos ou sem afastar de uma vez por todas um preconceito que nós temos contra nós mesmos, quando estivermos com outra pessoa. Eu, quando vou a Nova York, não vou deixar um nova-iorquino considerar-se melhor, porque eu venho de Portugal, de uma cultura maravilhosa e eu tenho a ver com o Brasil, que é uma cultura maravilhosa. Por isso, Frank Sinatra e Tom Jobim podiam ser irmãos.
PNE – Sua relação é muito próxima com o Brasil…
VHM – Sim, eu tenho um fascínio, desde pequeno, com o Brasil. Acho que nós recebemos muito de perto grandes nomes, muito do que o Brasil foi fazendo. Não tem como hoje eu não achar que, por exemplo, a Maria Bethânia ou o Caetano não me pertencem um pouco. Foram presenças muito cotidianas, muito, inclusive, emotivas, sentimentais. Participaram muito da minha educação artística e sentimental, então eu quero pra mim – e se alguém achar que eu não posso, eu vou ignorar, eu quero pra mim.
PNE – Com os livros é assim? Quando a gente lê, a gente faz com que cada pedacinho do mundo nos pertença um pouco?
VHM – Sim, a leitura permite a supressão de tudo que é efetivamente nosso, a gente quase transcende, vai buscar inclusive o impossível, deitamos mão de tudo quanto até chega a ser absurdo. E umas coisas a gente guarda pra sempre, lembra, não pode mais passar sem recordar uma determinada frase que de repente explica uma parte inteira da vida, ou então a gente rejeita e diz ‘visitei, conheci, fui à Lua e gostei de voltar a São Paulo’.
*Texto publicado originalmente em 18 de agosto de 2015.