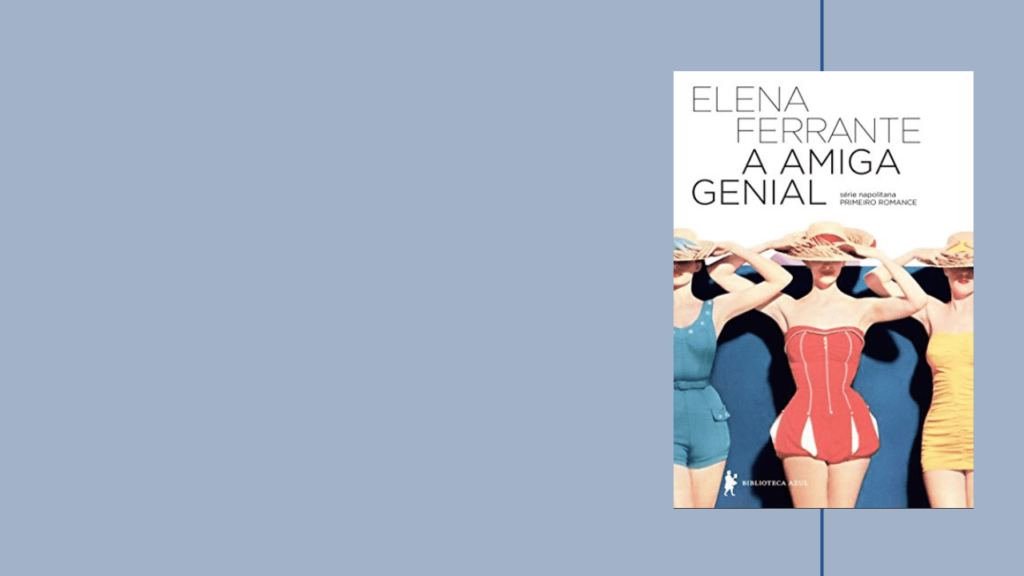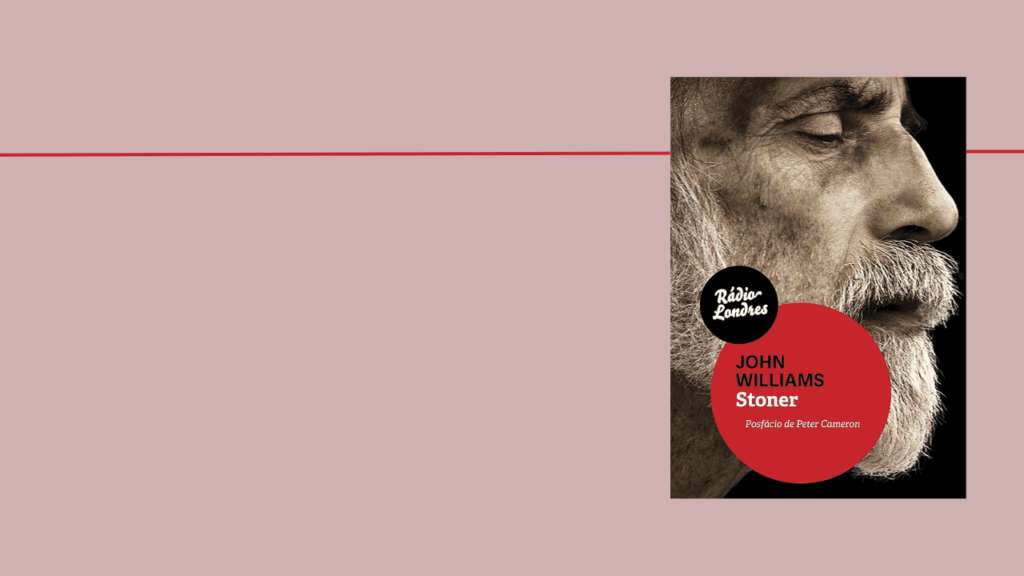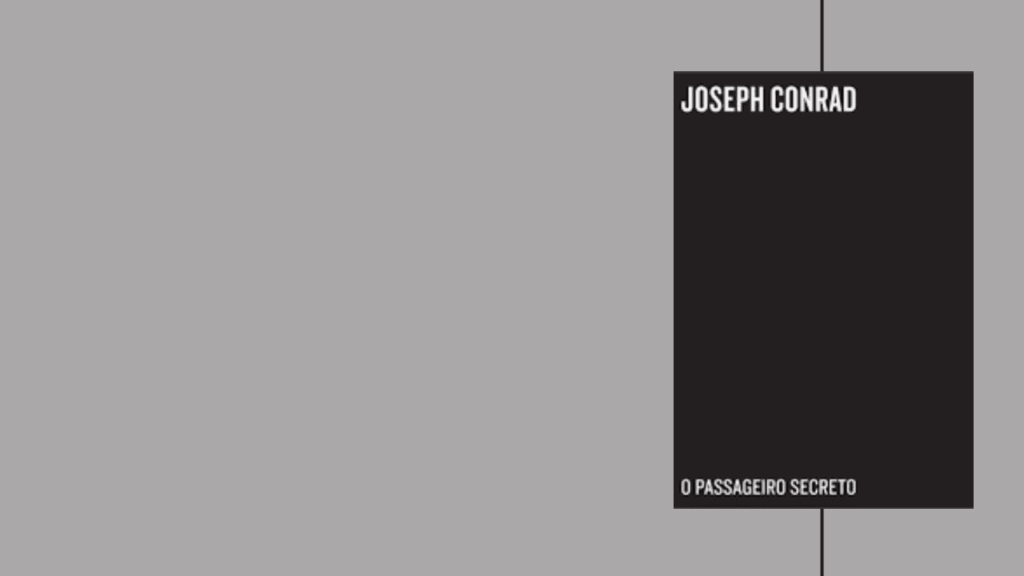O turco Orhan Pamuk, Nobel de Literatura, escreve um livro que não deve ser devorado, deve ser degustado. Um relato, uma compilação de memórias, uma descrição, uma aula de história com informações demais para serem assimiladas de uma vez. Istambul – Memória e Cidade é, ao mesmo tempo, um resgate das mudanças sofridas por Istambul (principalmente na transição do século XIX para o XX) e uma biografia incompleta do autor – fatos da vida pessoal entrelaçados com as percepções e a interação com a cidade. “Quando os Istanbullus envelhecem um pouco e sentem a sua sorte entrelaçar-se com a da cidade, acabam aceitando com satisfação o manto da melancolia que traz para as suas vidas tamanho contentamento, uma tamanha profundidade emocional, que quase lhes parece uma felicidade.”
A melancolia é um dos fios condutores da obra. Não só pelo tom memorialista, ora saudosista, de Pamuk. Mas porque o escritor nos explica que Istambul é marcada pelo espírito da huzün, a palavra turca para uma espécie de melancolia coletiva –um sentimento partilhado em comunidade, sentido a partir das cenas que a cidade evoca. “Existe uma distância entre a huzün e a melancolia do indivíduo solitário (…).” Essa cultura talvez se explique pelo fato de o povo de Istambul viver entre ruínas, entre lembranças de uma antiga civilização que foi vitoriosa e gloriosa. A huzün nasce da dor que sentem por tudo que se perdeu, mas também do que os impele a inventar novas derrotas e novas maneiras de dar expressão ao seu empobrecimento.”
Enquanto os cenários da cidade transbordavam essa melancolia, o Bósforo trazia alegria e vigor. Pamuk conduz o leitor em uma visita a Istambul quase que por um passeio de barco ao longo desse canal que passa pelo centro da região. A força dos habitantes vinha dali, em oposição ao ar de derrota que a outra parte exalava. “Ser capaz de ver o Bósforo, ainda que de longe –para os Istanbullus é uma questão de ordem espiritual que pode explicar por que as janelas que dão para o mar são como as mihrabs nas mesquitas, os altares nas igrejas cristãs e as tevans nas sinagogas, e por que todas as poltronas, todos os sofás e as mesas de jantar que dão para o Bósforo estão sempre dispostos de frente para o panorama.”
Mas nem o Bósforo escapava do impasse entre a velha e a nova Istambul. As grandiosas mansões à beira-mar construídas por famílias otomanas até o século XIX eram obsoletas para a Turquia republicana que se consolidava durante a infância de Orhan Pamuk. As transformações são esclarecidas pelos dados históricos e pela descrição urbanística, mas também pelos relatos surgidos no microcosmo familiar do autor. Nessas oportunidades é que o leitor vai descobrir parte da relação do escritor com o pai ausente, a mãe presente, o irmão competitivo e a avó – que tem um capítulo inteiro dedicado a ela. “Para mim, a coisa chamada família era um grupo de pessoas que, devido a um desejo de serem amadas e se sentirem em paz, relaxadas e seguras, concordavam em silenciar, por algum tempo a cada dia, os demônios e maus espíritos que traziam dentro de si, e agir como se fossem felizes.”
Aparece com força nas páginas de Istambul a ocidentalização da cidade. O autor traz relatos de ocidentais que foram à Turquia e descreveram o que viram -por vezes, com um tom de exoticidade. André Gide falou dos trajes otomanos, Flaubert falou da caligrafia, do alfabeto arábico. Ainda apareciam nas descrições os haréns, os túmulos e cemitérios, e tantas outras particularidades turcas. O que era narrado, no entanto, desaparecia, suprimido por aqueles que defendiam a ocidentalização. “Só uma das idiossincrasias da cidade se recusou a dissolver-se debaixo da força do olhar ocidental: as matilhas de cães que ainda vagam pelas ruas de Istambul.”
Também há espaço em Istambul para os relatos locais –aqueles que Pamuk diz terem feito com que ele descobrisse a alma da cidade em que vivia, a partir das oposições e conciliações entre passado e presente, Ocidente e Oriente. O autor nos apresenta a novos nomes para nossas estantes, autores e historiadores do país. É o caso do historiador Reşat Ekrem Koçu; de seu mentor, Ahmet Refik – “o primeiro historiador popular moderno de Istambul (…)”; do escritor Ahmet Rasim; do poeta Yahya Kemal; do “memorialista do Bósforo”, Abdülhak Şinasi Hisar; e do romancista Ahmed Hamdi Tampinar.
O olhar detalhista de Orhan Pamuk sobre Istambul é mais do que a palavra de um escritor. É a combinação da sensibilidade literária com uma percepção desenvolvida por quem também registrou a cidade e a vida em quadros, pinturas. O pincel foi substituído pela caneta à medida que crescia no autor o desejo de escrever e morria a inspiração plástica por falta de uma musa.
Mas em Istambul o leitor também tem direito ao registro visual: há maravilhosas fotos estampadas nas páginas, que nos aproximam da cidade dividida ao meio, compartilhada por dois continentes, onde tudo está pela metade, mas também está em dobro. O desejo de transformar imagens em palavras virou livro porque Pamuk revelou-se um questionador, que queria redesenhar Istambul para redesenhar a si próprio. Ele parece querer respostas para a melancolia da qual se apropriou, nascida na cidade que ora o deixa satisfeito, ora o faz infeliz. “(…) a procura importava tanto quanto a obtenção de respostas, e as perguntas eram tão importantes quanto os panoramas que víamos das janelas, do carro, a casa, a balsa.”
Istambul – Memória e Cidade, de Orhan Pamuk. Tradução de Sergio Flaksman. Companhia das Letras, 385 páginas.
Texto publicado originalmente em 19 de março de 2013.